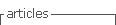INTRODUÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ENTRE DIREITO E MORAL
A disciplina a que denominamos de Filosofia do Direito, Filosofia Jurídica ou Jurisprudência (Jurisprudence), tem sido decomposta em duas formas de expressão, ou melhor dizendo, duas formas de fazer-se, e que segundo Celso Lafer tem seguinte divisão: uma que é feita por filósofos (raposas), outra que é feita por juristas (ouriços)1, distinção que ele extraiu do conhecido poema de Arquíloco, o primeiro grande poeta grego pós-Homero e Hesíodo, e que tem o seguinte conteúdo:
No original: “πόλλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἓν μέγα”2. Na tradução feita por Erasmo de Roterdã em suas Adagias: “Multa novit vulpes, verum echinus unum Magnum”3. Na tradução que consta em Justice for Hedhehog de Ronald Dworkin, tem-se o seguinte registro: “The fox knows many things, but the hedhehog knows one big thing”4; o mesmo em Harris5e Berlin6. Lafer a registrou da seguinte forma: “Muitas coisas sabe a raposa; mas o ouriço uma grande”7.
Essa díade que faz uma distinção entre um pensamento que tem por programa todos os temas inerentes à experiência humana e social, isto é, feita por raposas - v.g. Aristóteles: da física à metafísica, passando pela política e pela ética -, e uma filosofia limitada a um único campo ou mesmo que busca circunscrever tais experiências a um princípio unificador, isto é, feita por ouriços - v.g. Platão, Wittgenstein e Hegel -, não foi criada por Celso Lafer, como ele mesmo o reconhece, mas pelo filósofo inglês Isaiah Berlin em seu The Hedhehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History8, em que este autor, tentando categorizar esse grande autor russo a partir dessa distingo, concebeu-o como uma raposa que expressou em sua obra literária todos os campos possíveis da experiência humana, mas que do ponto de vista da convicção pessoal e da moralidade, acreditava-se um ouriço9. Outro grande filósofo do direito da matriz anglo-saxã - Ronald Dworkin - também se apropriou dessa díade para escrever seu último livro - Justice for Hedhehog -, na qual ele, desde uma perspectiva da filosofia moral, defendeu a necessidade de preservação do “valor” fundante do liberalismo político - o viver bem -, bem como a necessidade de o fazê-lo para nós mesmos e para os outros10, numa clara alusão à φρόνησις (phronésis) aristotélica.
Mas voltemos à distinção laferiana. O que diferencia uma filosofia do direito feita por filósofos de outra feita por juristas não é, pois, a matéria bruta com a qual eles trabalham - a experiência jurídica e (n)as comunidades humanas -, mas os problemas que tencionam resolver e os paradigmas de que se utilizam: aqueles seriam filósofos que manifestam interesses por temas jurídicos ao lado de tantos outros; já estes são “(...) juristas com inquietações filosóficas (...)” e que trabalham sobre problemas “(...) suscitados pelas necessidades práticas da experiência jurídica de ir além dos dados empíricos do Direito Positivo para poder lidar com o próprio Direito Positivo”11.
O tema desse trabalho se constitui, para ficarmos na díade acima indicada, em um que é próprio da filosofia do direito (embora nada obste que outros se preocupem com ele, como de fato o fazem), e feita por um ouriço, e que, portanto, assumindo desde já o locus fundamental desse modo de fazer filosofia do direito, busca respostas para o problema proposto - existem direitos absolutos? - não na política, na moral, na religião, na psicologia social ou na econômica política, para ficarmos em alguns campos de normatização das relações humanas, mas no direito, entendido como o campo composto por sistemas normativos e teorias jurídicas acerca do fenômeno jurídico que têm por meta a regulação de comportamentos individuais, coletivos e institucionais, bem como determinar, a partir de critérios racionais e razoáveis inerente à sua própria racionalidade, o modo de aplicação daquelas normas e que, por sua especificidade, é, e deve continuar a ser autônomo em relação àquelas demais formas de normatização.
No que toca, doutro polo, a delimitação para o âmbito dos direitos humanos, haja vista que o problema acerca da existência ou não de direitos absolutos é comum a outros campos da experiência jurídica, ela se justifica, de um lado, pela abrangência que eles têm, seja em nível universal (o sistema onusiano) ou regional (os sistemas regionais de direitos humanos), de forma que a discussão logra fugir de particularidades quer dos direitos nacionais quer dos diversos campos de regulação jurídica, seja porque, por razões que ficarão mais claras abaixo, tem crescido, de forma exponencial, um conjunto de discursos e comportamentos institucionais ou difusos de deslegitimação dos direitos humanos, cuja principal intenção parece tornar aceitável a violação aos direitos e garantias internacionalmente reconhecidos pela comunidade internacional.
Na acepção que se assume nesse trabalho, fazer filosofia e ciência jurídica -interpretar e dar sentido ao fenômeno jurídico e às normas jurídicas-, não é fazer economia, juízos morais, religiosos etc, mas, desde as singularidades e particularidades do campo autônomo que é o direito, buscar os fundamentos últimos - caso existam -, e os significados possíveis e razoáveis dos comandos normativos, em particular na tentativa de responder ao problema proposto, distanciando-se, o quanto possível, do aporético problema da justiça em sentido extrajurídico, isto é, decorrente de um valor absoluto supra histórico, uma vez que, conforme Kelsen, a “(...) justiça absoluta é um ideal irracional porque pode derivar apenas de uma autoridade transcendente, isto é, de Deus (...)” e, por isso, revela-se “(....) uma eterna ilusão”12.
A resposta que se procura, portanto, parte de uma concepção humana, demasiada humana da justiça, isto é, aquela inerente (decorrente, portanto) e imanente (no sentido estrito do termo, composto pelos termos latino in e manere, e que desde a concepção spinozana, é aquela realidade que dá-se e mostra-se a si mesma sem qualquer vínculo ou dependência a uma causa transcendente13) ao Estado de Direito, à Democracia e ao Direito Internacional dos Direitos Humanos em suas mútuas interdependências, como de resto o evidencia os itens 5 e 8 da Declaração e Programa de Viena:
5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais.
8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais são interdependentes e reforçam-se mutuamente. A democracia assenta no desejo livremente expresso dos povos em determinar os seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e a sua participação plena em todos os aspectos das suas vidas. Neste contexto, a promoção e a proteção dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, a nível nacional e internacional, devem ser universais e conduzidas sem restrições adicionais. A comunidade internacional deverá apoiar o reforço e a promoção da democracia, do desenvolvimento e do respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais no mundo inteiro.
Com efeito, segundo Rodolfo Vásquez, o campo de tensão e batalha própria de toda filosofia do direito é aquele pertinente às relações existentes entre direito e moral, vale dizer, as relações possíveis e influências recíprocas que existam entre estes dois campos, se é que elas existam ou deveriam existir14.
Assim, se para um campo bastante amplo - no qual poderíamos situar, somente para fins de exemplificação, desde os diversos jusnaturalismos, passando pelos realismos jurídicos e a escola anglo-saxã prosseguidora ou influenciada pelo utilitarismo -, direito e moral se encontram no mesmo campo de normatização - formariam, portanto, círculos concêntricos, em que o círculo maior - a moral -, abarcaria o direito - o menor -, devendo este expressar, tanto quanto possível, e sob pena de ilegitimidade, preceitos morais.
Para Klaus Günther, por exemplo, o próprio processo de interpretação e aplicação das normas jurídicas, isto é, a fundamentação de sua validade/legitimidade e a justificação de sua aplicação aos casos concretos se daria pela submissão do direito à moral, uma vez que ela seria a instância última de universalização da normatividade reclamada por sociedades que se organizam em torno do que é bom e justo. Mais do que um problema da razão teórica, fundamentar e justificar as decisões jurídicas é um ato da razão prática sendo, portanto, orientada a priori pela moralidade (fundamentação), e não pelo direito15.
Já outras escolas, partindo, em maior ou menor medida, da distinção kantiana entre direito e moral, como seja, da distingo entre autonomia - derivada do princípio kantiano da maioridade moral do ter-se “(...) coragem de te servires do teu próprio entendimento”16e heteronomia, identificada por Kant a partir da expressão “(...) a vontade não se dá a lei a si mesma, mas é sim um impulso estranho que dá a lei”17, direito e moral são instâncias independentes vis-à-vis, e que se conformam em círculos não secantes e, portanto, estanques no que concerne a uma influência recíproca.
Tais teorias são defendidas, e.g., pelos positivismos jurídicos, em particular os não inclusivos e a teoria crítica hermenêutica do direito de Lenio Streck no Brasil, pelas quais não há nem pode haver, sob pena de perda significativa do postulado da segurança jurídica e da autoridade e autonomia do Direito, submissão do direito à moral.
Como dito em outra oportunidade, com especial referência à teoria crítica de Lenio Streck18,
(...) se a tarefa essencial que cabe à Ciência Jurídica é a de constituir-se em um conjunto de teorias orientadas pela racionalidade jurídica que têm por função subministrar fundamentos e princípios para a interpretação dessas normas, num regime democrático, fundado sobre a necessidade de se coarctar o quanto e o mais possível a arbitrariedade e/ou a discricionariedade dos agentes estatais, esta coarctação se dá, de um lado, na submissão de todas as normas à Constituição, ato com o qual se limita o poder do legislador, e de outro lado na delimitação do juris dicere, i.e., em não permitir ou legitimar que juízes possam dar às palavras com as quais se gravam as normas em uma sociedade democrática o sentido que eles queiram dar, quanto mais se esta interpretação não estiver estribada em princípios jurídicos, mas em postulados morais, políticos etc (...).
Não se pode negar, contudo, que entre direito e moral possa existir uma correspondência conteudística entre o que é bom/justo mal/injusto. Assim, o estupro, do ponto de vista moral, é um mal que se pratica em detrimento da autonomia sexual de outrem, sendo que, da perspectiva do direito, se constitui em crime, haja vista a reprovabilidade penal do comportamento, uma vez que a autonomia sexual é um bem jurídico penalmente relevante; a corrupção, pública ou privada, é moralmente reprovável e constitui-se em um mal à coletividade (reprovação moral), da mesma forma que, para o direito, a prática de atos de corrupção constituem-se em comportamentos ilícitos que atraem, segundo o caso, sanções de caráter político, administrativo e/ou criminal.
Entretanto, apesar da semelhança na reprovabilidade de tais comportamentos, direito e moral têm respostas diversas desde suas estruturas normativas, posto operarem a partir de códigos binários próprios: a moral a partir da polaridade bom/mal; o direito desde a polaridade lícito/ilícito. Além disso, a natureza da sanção cominada também é diversa: na moral, ou uma autorreprovação pelo agente violador e/ou de caráter difuso pelos membros da sociedade; no direito, a sanção de caráter institucional, na medida em que cabe às instâncias pré-existentes ao comportamento ilícito exercer a persecução necessária para se impor ao agente a sanção jurídica previamente estabelecida.
Aquelas polaridades têm fundamentos em razões de decidir distintas, não podendo ser nem confundidas nem sobrepostas uma à outra em razão da decantada autonomia vis-à-vis, mormente porque em muitas circunstâncias da vida social aquela correspondência entre preceito moral/prescrição jurídica não existe, como o demonstram alguns temas da vida pública em que existem dissensos morais irredutíveis à conciliação, tais como o aborto, as uniões homoafetivas, a eutanásia, a descriminalização das substâncias estupefacientes, a inserção de temas sensíveis do ponto de vista da moralidade majoritária nos regimes de educação etc. Em tais casos, como dito, ante a impossibilidade de consenso - são dissensos morais profundos -, não cabe ao direito optar por uma concepção moral “A” ou “B”, mas permitir, desde o postulado da neutralidade, que as normas jurídicas regulem tais comportamentos a partir dos princípios jurídicos que lhes dão espeque e legitimam a sua vigência jurídico-normativa.
Para que fique mais clara a asserção acima. É óbvio que nas diversas fases de deliberação acerca de um projeto de lei, os possíveis argumentos advindos do direito, da moral, das concepções religiosas, dentre outras, tendem a esfumar aquela autonomia normativa entre os campos, e desde uma perspectiva democrática e plural, esta esfumação é plenamente legítima, guardados os limites de legitimidade discursiva decorrentes dos princípios da universalidade19 e da não-discriminação. Contudo, uma vez promulgada a norma, a autonomia entre direito e moral deve prevalecer sobre as opções morais, políticas, econômicas daquele que a irá aplicar. Salvo a hipótese, e.g., da necessidade de realização dos controles de constitucionalidade (ato normativo em relação de inferioridade vertical face à Constituição) ou de convencionalidade (ato normativo em relação de inferioridade vertical face aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos), pelas “quais o aplicador do direito
deverá, caso interprete a norma inconstitucional ou incompatível com o standard normativo internacional, declará-la nula20, não lhe é cabível atribuir sentido diverso daquele que é dado pelo próprio programa normativo da norma, quanto mais se o (res)significado decorrer de suas concepções particulares acerca da moral, da política etc. Embora se possa reconhecer, como já o afirmava Pontes de Miranda21, um espaço para a crítica de lege ferenda, a mesma não pode ser de lege lata, uma vez que o aplicador do direito, enquanto órgão do Estado, está submetido aos limites do exercício do poder que é imanente a um regime democrático e fundado sobre a legitimidade constitucional que os direitos e garantias fundamentais interpõem.
É importante, nesse sentido, destacar que o tema dos direitos humanos - desde o seu significado, passando por seus fundamentos e chegando, por fim, à sua eficácia concreta -, como regra geral, estão submetidos a profundos dissensos morais, mormente em sociedades desiguais e profundamente violentas, em que tem havido um crescimento de discursos políticos, morais, religiosos e econômicos de deslegitimação, muitos chegando a propor, por ignorância ou má-fé, ou mesmo por uma soma dos dois, um genuíno retorno à civitas dissoluta e à bellum omnis contra omens que Hobbes descreveu no parágrafo primeiro do De Cive22.
Mas há, também, um profundo dissenso entre os legitimadores dos direitos humanos acerca de seus significados e da fundamentação de suas pretensões políticas de reconhecimento jurídico que partem, como não poderia deixar de ser, de argumentos morais e ou políticos, e não jurídicos. Em outros termos, apesar do direito, quer-se impor um significado ou uma determinada extensão a um direito não a partir de argumentos e fundamentos jurídicos, mas morais. Um exemplo muito significativo, nesse último sentido, foi a defesa feita na Argentina, logo após o término da ditadura militar, da constituição de tribunais ad hoc e excepcionais com competência para julgar os agentes dos subsistemas da repressão política que foram acusados do cometimento de graves crimes internacionais. Os argumentos políticos e morais então arguidos consistiram em que, para crimes excepcionais (tortura, desaparecimentos forçado de pessoas, execuções extrajudiciais etc) seria necessária uma justiça também excepcional e rígida, algo como um violar-se para proteger-se os direitos humanos23.
Pois bem. Adotou-se no presente trabalho o pressuposto de que a distinção entre direito e moral é condição necessária para a tomada de decisões jurídicas, uma vez que, caso os agentes públicos dotados de competência para decidir sejam legitimados a fazê-lo a partir de fundamento decorrentes não do programa normativo e de conformidade com os postulados e os princípios fundamentais da ciência do direito, mas de sua moralidade particular, dá-se espaço não ao governo pelas leis - que é a condição essencial de qualquer sistema democrático -, mas de homens24, sem que, doutro passo, se tenha a possibilidade de exercer o controle concreto sobre suas atividades públicas, com grave e contínua perda de um dos direitos mais importantes que concerne aos cidadãos: a segurança jurídica.
Desde essa distinção, uma decisão jurídica não será certa ou errada porque conforme os postulados morais A, B ou C, mas porque fundadas e legitimadas nos princípios jurídicos fundamentais que organizam a sociedade, em especial aqueles de estatura constitucional e/ou decorrentes do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Assim, decidir em direito não é fazer opções entre um mal maior e um mal menor, argumento que supõe a possibilidade de se admitir e aceitar, sub-repticiamente, o próprio mal25, mas por princípios jurídicos, as únicas instâncias de legitimidade e validade para as demais normas jurídicas e das decisões de agentes públicos, em especial os juízes26.
Portanto, a discussão que se empreenderá nos dois próximos tópicos sobre a existência ou não de direitos absolutos deve ser feita desde o fundamento epistemológico acima descrito, que, partindo da autonomia do direito em relação aos demais campos de normalização social, busca conhecer e compreender as razões jurídicas, políticas e históricas pelas quais, como regra geral, os direitos são relativos, mas excepcionalmente absolutos, isto é, não restringíveis.
RELATIVISMO OU ABSOLUTISMO DOS DIREITOS
Um segundo ponto que deve ser enfrentado no presente trabalho refere-se à questão de se saber se os direitos, como regra geral, são absolutos ou relativos, questão essa que, pode-se notar desde a construção do problema, não encerra uma resposta unívoca, pois além de se tratar de um tema jurídico, é também um tema das filosofias política e moral, sede na qual a aporia entre absolutismo e relativismo é, por definição, insolúvel27.
Mas o que vem a ser absolutismo e relativismo na filosofia, e que tanto influencia o discurso “jurídico” das mais diversas tendências?
Segundo Hans Kelsen, absolutismo é a teoria filosófica que parte de uma perspectiva fundacional de natureza metafísica, segundo a qual existe uma realidade absoluta, entendida como algo que existe independentemente do conhecimento humano: “Logo, sua existência é objetiva e ilimitada no ou para além do espaço e do tempo, aos quais restringe-se o conhecimento humano”28. Se existe, portanto, uma realidade absoluta a ela se liga uma verdade absoluta, bem como valores absolutos, implicando, necessariamente, em uma existência perfeita. A consequência do absolutismo filosófico é a existência de valores absolutos que são válidos para todos, “(...) sempre e em todo o lugar, e não apenas em relação ao sujeito do juízo (...)”29, tendo referida doutrina por consequência mais importante a afirmação de que a função “(...) do conhecimento humano é meramente a de refletir, como um espelho, os objetos existentes em si mesmos (...)”30.
Já o relativismo, também denominado de empirismo, pelo revés, parte da perspectiva de que a realidade é um elemento intrínseco ao conhecimento humano, e de que a “(...) realidade é relativa ao sujeito cognoscente”31. Em síntese, não existe uma realidade, mas realidades, e onde há realidades, há pluralidade e relativismo.
Se a concepção absolutista traz em si uma relação de sujeição do sujeito cognoscente ao que existe a priori, como seja, ele não tem autonomia ou poder para alterar o que existe per se, o que pode gerar, como de fato gerou, enormes injustiças na aplicação político-jurídico-religiosa desta concepção (basta-nos lembrar no absolutismo monárquico na Europa dos séculos XVI e XVIII, do regime segregacionista dos EUA ou o Apartheid na África do Sul, do sistema jurídico-religioso do Taleban no Afeganistão ou os diversos totalitarismos e regimes autoritários que vicejaram ou ainda existem), a teoria relativista pode gerar duas consequências que, se não forem enfrentadas, constituem-se em verdadeiras aporias, a saber, o solipsismo paradoxal e o pluralismo.
Entende-se por solipsismo paradoxal o raciocínio que leva o sujeito cognoscente a se entender como única realidade existente, ou seja, se é o ego quem cria o seu objeto de conhecimento, ele, e não aquele, é que existe. Ora, tal conclusão fundar-se-ia em um paradoxo pois, se o sujeito cognoscente é a única realidade existente, logo ele seria uma realidade absoluta, o que contraditaria todo o pensamento relativista por incorrer em petição de princípio.
Já por pluralismo32 há de se entender a possibilidade de existirem tantas realidades quantos egos existentes, pois, se a realidade é criada pelo sujeito cognoscente, cada um criará a sua própria realidade, isto é, haverá tantos mundos quantos forem os sujeitos cognoscentes. Isto geraria outro paradoxo, na medida em que se contraporia à realidade vivida por todos.
A fim de se evitar tais conclusões, o relativismo nega a possibilidade tanto do solipsismo quanto do pluralismo, adotando-se como paradigma à isonomia dos sujeitos cognoscentes. Segundo Kelsen
Considerando, como verdadeiro relativismo, a mútua relação entre os vários sujeitos do conhecimento, esta teoria compensa sua incapacidade de assegurar a existência objetiva de um único e mesmo mundo para todos os sujeitos pela suposição de que os indivíduos, enquanto sujeitos do conhecimento, são iguais. Essa suposição implica também a igualdade dos processos de cognição na mente dos sujeitos e, assim, torna possível admitir que os objetos do conhecimento, assim como os resultados desses processos individuais, estão em conformidade, o que é confirmado pelo comportamento exterior dos indivíduos33.
Assim, as correntes absolutistas dos direitos nos remetem às diversas tradições jurídicas, desde a antiguidade à moderna, especialmente referidas à filosofia jusnaturalista, posto que tal corrente concebe os direitos “naturais” do homem como algo supra histórico e dado a priori, seja por deus (jusnaturalismos teológico) ou pela razão humana (jusnaturalismos racionalista). Já a corrente relativista nos remetem às teorias institucionalistas, democráticas, positivistas e culturalistas, para enfeixarmos as mais diversas tendências em um número limitado de conceitos, cuja compreensão no tocante à existência de direitos absolutos é a de negá-la.
Assim, como regra, os direitos não são absolutos, pois não têm uma pré-existência, ou mesmo vigência fora da sociedade humana, que quando compreendida desde uma perspectiva comparatística, é essencialmente plural; por serem instituídos a partir dessa sociabilidade e condicionados em sua normogênese à própria facticidade histórica que lhes deram origem, são relativos, pois se ligam à pessoa humana não somente enquanto um ser-em-si, mas principalmente como ser-com: um ser que vive em comunidade.
Neste sentido, Wilson Antônio Steinmetz:
Que os Direitos fundamentais não são absolutos e ilimitados é possível demonstrar e provar deste diversos pontos de vista. Desde um ponto de vista fenomenológico-existencial, a existência humana se caracteriza pela co-existência. O homem é um ser-com, um ser inserido no processo histórico-social. Assim, se os homens coexistem, então os Direitos também coexistem, co-determinam-se e se co-limitam. Os limites aos Direitos fundamentais decorrem da própria socialidade humana. Apenas em um estado de natureza de tipo hobbesiano, no qual os indivíduos vivem isolados e em permanente beligerância (bellum omnium contra omnes; homo homini lupus) os Direitos são ilimitados e ilimitáveis (ius omnium in omnia). E mesmo assim seria de se indagar se o que existe nesse estado são Direitos ou uma outra coisa qualquer.34
Assim, resta evidente que os direitos no geral, e os direitos humanos em particular, não são absolutos, mas sim relativos, na medida em que:
a) são conquistas historicamente referidas, ou para ficarmos na conhecida afirmação bobbiana, os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas35;
b) os direitos serão aqueles positivados de forma explicita ou implícita no ordenamento jurídico (penunbral rights), devendo-se considerar, doutro polo, que as pretensões de direito não positivadas explícita ou implicitamente, não são direitos, mas pautas políticas e ou morais de seu reconhecimento. Conforme Riccardo Guastini:
Normalmente a reivindicação de um direito moral ou “natural” não tem outro objetivo que o de pleitear que tal direito seja “positivado”, isto é, reconhecido e garantido pelo direito positivo. Em outras palavras, quem reivindica um direito moral, na maior parte dos casos, leva a cabo uma operação política com o objetivo de modificar o ordenamento jurídico vigente.36
c) assumem as mais variadas configurações, por serem obra de um dado povo, em um dado momento de sua formação cultural, e
d) por serem “elementos” de convivência entre as pessoas de uma dada sociedade, devem ser relativos, pois se absolutos, o direito de “um” excluiria o direito do “outro”, o que nos levaria, em última instância, à sociedade pré-contratual descrita por Hobbes37.
Em síntese, reconhecer a relatividade dos direitos é a condição necessária para que haja uma convivência equilibrada entre os seus titulares, além de também ser condição necessária ao controle do poder do Estado.
NEM TUDO É RELATIVO E PONDERÁVEL
A ideia central, portanto, é a de que não existem direitos absolutos, uma vez que eles estão submetidos àquele postulado da colimitação e fruição limitada pela proporcionalidade, pela razoabilidade e a vedação do abuso do direito, e isso vale, prima facie, para todos os direitos, sejam quais forem a origem e a hierarquia normativa da norma que os assegure.
Contudo, nada obstante essa regra geral, existem determinados direitos que não estão submetidos a nenhum tipo de limitação, podendo-se, nesse sentido, ser conceituados como direitos absolutos. E por quê? Porque, normativamente, o legislador, nacional ou internacional, institui em relação aos mesmos uma proteção jurídica não-restringível pelo Estado ou por terceiros, pois, seja qual for a circunstância fática, instituem uma proteção absoluta que não está sujeita a nenhuma limitação pelos postulados da proporcionalidade e/ou da razoabilidade.
Para ficarmos no campo da dogmática dos direitos fundamentais, esses direitos instituem aquilo que Alexy denomina de direitos a ações negativas, vale dizer, direitos pelos quais os cidadãos podem exigir em relação ao Estado e a terceiros uma não afetação dos interesses juridicamente tutelados, mormente aqueles relacionados à integridade física e psíquica do indivíduo38, bem como os deveres constitucionais e internacionais de os Estados criem instituições eficazes de prevenção geral e especial destes comportamentos, inclusive através de suas tipificações na forma de crimes e do exercício obrigatório e sem dilações da persecução penal39.
Nesse tópico em particular, o artigo de John Finnis - Absolute Rights: some problems illustrated40 - constitui-se numa referência fundamental, uma vez que ele foi escrito em prosseguimento a um trabalho anterior de Joseph Boyle, no qual, este último, partindo das teses de Elizabeth Anscombe, defendeu a tese de que, a menos que os direitos humanos absolutos sejam justificados em suas especificidades, a assunção de que eles existam gera, no plano da lógica jurídica, uma série de incoerências e paradoxos por fugirem à regra geral da relatividade dos direitos.
Para Finnis, a justificativa para a existência de direitos humanos absolutos decorre do fato de que se constituem em “(...) some kinds of acts that everyone has an indefeasible, exceptionless moral duty of justice not to choose and do”41. Entretanto,
(…) all those kinds of act are properly defined or specified by reference to the intention with which the act is chosen and done. Any affirmation or assertion of an absolute right specified more broadly, so as to prohibit acts specified by reference to unintended effects of them, will be morally incoherent and if legally enforced will result in injustice, sometimes at least as grave42.
a regra geral da relatividade e a excepcionalidade das previsões de normas inderrogáveis (rectius: direitos absolutos), aplica a regra hermenêutica da restrição, segundo a qual a “(...) logic requires that a norm’s absoluteness narrow, not broaden its scope as an absolute”43, razão pela qual ele traça uma série de críticas à jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos em matéria extradicional, na medida em que a mesma tem interpretado a proibição absoluta à tortura ou tratamento degradante ou humilhante, presente no artigo 3 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, não somente quando exista uma ameaça de ser praticada no Estado ativo do pedido extradicional por agentes públicos, mas em qualquer circunstância44, especialmente no que diz respeito à aplicação da teoria hermenêutica de que os tratados internacionais de direitos humanos se constituiriam em “living instruments”, mormente porque, com essa prática, “(...) (t)he ECtHR’s living instrument jurisprudence is founded on the grasping of legislative power, a power of constructing new law, bey judges whose jurisdiction extended, in truth, only to ‘interpretation and application’ (Article 32(1)), no to legislative improvement (…)”45.
De qualquer forma, como já visto, todo direito “nasce” a partir de determinadas necessidades históricas, objetivando o aperfeiçoamento da tutela jurídica sobre determinadas esferas da vida humana e institucional que até então, por motivos vários, ou não eram juridicamente tuteladas, ou não o eram de forma suficiente. Em outros termos, é a experiência histórica, bem como o surgimento de uma consciência coletiva de proteção de determinados interesses que tornam possível o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico no intento de coibir práticas que, desde esses momentos, passam a ser considerados inadmissíveis.
Esses direitos absolutos ou não restringíveis de que cuidamos surgem a partir da magna trepidatio que foram a 2ª Guerra Mundial, Auschwitz e a Experiência Totalitária, concebida por Hannah Arendt como a manifestação política daquilo que ela denomina de descartabilidade da vida humana. Se na tradição ocidental a vida humana sempre fora concebida como o direito humano par excellence a partir do qual todos os demais direitos defluíam, a experiência totalitária demonstrou como, quebrando-se referida tradição, a vida humana passa a ser descartável e submetida ao poder totalitário na forma de uma negação absoluta da cidadania - impolítica, paternalismo político e menoridade cívica -46, seja na forma da matabilidade da vida que se decide não merecer ser vivida47.
Tendo em vista esse contexto, é importante observar como determinados direitos passaram a ser protegidos de forma absoluta, isto é, sem que seja possível, juridicamente falando, as suas derrogações ou mitigações por outras normas, ou relativizados ou restringidos por circunstâncias de excepcionalidade política.
Para Bobbio, a dificuldade em se aceitar a existência de determinados direitos absolutos se liga a diversos fatores, sejam eles político-jurídicos decorrentes do conceito de soberania, sejam eles decorrentes da ambiguidade semântica que envolve o próprio conceito de direitos humanos, pois
Além das dificuldades jurídico-políticas, a tutela dos direitos do homem vai de encontro a dificuldade inerentes ao próprio conteúdo desses direitos (...). Dado que a maior parte desses direitos são igualmente aceitos pelo senso moral comum, crê-se que o seu exercício seja igualmente simples. Mas, ao contrário, é terrivelmente complicado. Por um lado, o consenso geral quanto a eles induz a crer que tenham um valor absoluto; por outro lado, a expressão genérica e única “direitos do homem” faz pensar numa categoria homogênea. Mas, ao contrário, os direitos do homem, em sua maioria, não são absolutos, nem constituem de modo algum uma categoria homogênea48.
Contudo, referidas dificuldades não ilidem que determinados direitos sejam submetidos a uma proteção absoluta por não permitirem a ponderação normativa, procedimento através do qual, havendo conflito entre normas de direitos fundamentais em um caso concreto, deverá o interprete/aplicador do direito, por intermédio do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, afastar um princípio em favor de outro49. Com efeito, para Bobbio, há de se entender
(...) por “valor absoluto” o estatuto que cabe a pouquíssimos direitos do homem, válidos em todas as situações e para todos os homens sem distinção. Trata-se de um estatuto privilegiado, que depende de uma situação que se verifica muito raramente; é a situação na qual existem direitos fundamentais que não estão em concorrência com outros direitos igualmente fundamentais. É preciso partir da afirmação óbvia de que não se pode instituir um direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras categorias de pessoas. O direito a não ser escravizado implica na eliminação do direito de possuir escravos, assim como o direito de não ser torturado implica a eliminação do direito de torturar. Esses dois direitos poder ser considerados absolutos, já que a ação que é considerada ilícita em consequência de sua instituição e proteção é universalmente condenada50.
No mesmo sentido Delmas-Marty, para quem, se é fato que, normativamente, existe uma limitação recíproca entre as normas de direitos humanos, existem, no entanto, e por expresso reconhecimento dos tratados internacionais regentes sobre a matéria, determinados direitos que não podem, em circunstância alguma, ser restringidos, submetidos que estão a uma proteção absoluta51:
Apresentados pela Declaração Universal de 1948 como “um ideal comum a atingir”, nela os direitos do homem são todos proclamados, com a mesma força, sem restrição aparente. No entanto, o artigo 29-2 dessa Declaração admite a existência de “limitações”, especificando que elas devem ser “estabelecidas pela lei (...)”. Na mesma ocasião surgiu a questão de saber se todos os direitos enunciados são submetidos a tais limitações ou se alguns dentre eles escapam-lhes, beneficiando-se de um proteção absoluta (...) Essa definição exclui da categoria dos direitos com proteção absoluta o direito à vida, pois os textos enunciados admitem todos a exceção da pena de morte e a da legítima defesa (...) (havendo, entretanto) na hierarquia dos valores um bem mais precioso do que a vida, tão precioso que não ousam nomeá-lo, senão por uma proibição: proibição da tortura e dos tratamentos desumanos ou degradantes, proibição da escravidão e da servidão, proibição das expulsões coletivas, às quais o Pacto da ONU acrescenta a proibição de impor a uma pessoa, sem o seu consentimento, uma experiência médica ou científica, e uma obrigação, a de reconhecer em todos os lugares a personalidade jurídica de cada qual (...) Pertencem a essa mesma categoria o direito à não discriminação, assim como o direito à presunção de inocência.
Em outros termos, se é certo que o Direito Internacional assegura aos Estados ampla discricionariedade na assunção e consecução de obrigações internacionais de caráter sinalagmático, no concernente ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Penal Internacional tais atributos perdem espaço à conformação de uma estrutura normativa objetiva e cogente (normas de jus cogens e obrigações erga omnes) que tem por consequência, para os Estados violadores, a possibilidade de imputação de responsabilidade internacional na forma daquilo os Drafts Articles on Responsibility of States for Internationally Wrogfull Acts denomina de “atos ilícitos internacionais excepcionalmente graves” (exceptionally serious wronful act)52, e em relação aos indivíduos, a imputação de responsabilidade penal direta perante o Direito Internacional, evidenciando-se como isso, doutro passo, o postulado da sobreposição (overlap)5353 entre responsabilidade coletiva e responsabilidade penal individual no âmbito desses dois ramos do Direito Internacional contemporâneo54.
Isto se aclara quando se apercebe que aqueles direitos humanos a que se defere uma proteção absoluta constituem-se, quando violados pelos Estados, de forma omissiva ou comissiva por desatenção à obrigação de “respeitar e fazer respeitar”, em crimes internacionais, como, e.g., a tortura55, o desaparecimento forçado de pessoas56, a discriminação racial, que em sua forma mais extrema se dá através do Aphartheid57, a redução da pessoa à condição análoga de escravo58, a submissão de indivíduos à experimentação médica ou científica não consentida, dentre outros, e que tipificam hipóteses de crimes contra a humanidade e/ou de guerra nos termos dos artigos 7 e 8 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
Nesse sentido, à pergunta inicialmente feita - existem direitos absolutos? -, a resposta que se deve dar é: sim, embora poucos, eles são reconhecidos por disposições expressas de direito positivo, como o deixa evidenciado o disposto no artigo 27, 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 4, 2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
CONCLUSÃO: DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E A ESFERA DO INDECIDÍVEL
A ninguém é dado descurar que, no tempo presente, os direitos em geral, e os direitos humanos em particular, encontram-se sob um ataque sem quartel quer no que toca à sua legitimidade político-jurídica, quer sobre as condições necessárias à sua própria eficácia, mormente em razão do crescimento exponencial dos discursos de ódio e em favor de segregações e discriminações de todas as ordens ou da implementação de políticas econômicas que tendem a aumentar a desigualdade social. Em síntese, e para se utilizar uma expressão usualmente empregada pela criminologia crítica, de adesão subjetiva à barbárie5959, e que identifica a preponderância de práticas discursivas e comportamentais de violações contínuas aos direitos humanos.
Ora, se existe uma relação, como se tem até aqui argumentado, entre direito e democracia, essa relação deve se orientar, naquilo que é essencial àquele primeiro, por suas estruturas principiológicas e dogmáticas que não podem ser afastadas por nenhum pretexto ou argumento, seja político ou moral, sob pena de se derruir os próprios fundamentos do Estado de Direito, dentre os quais estão os princípios da liberdade, da estrita legalidade em Direito Penal, da segurança jurídica, da presunção de inocência e o da inviolabilidade absoluta daqueles direitos acima descritos e identificados.
Em outros termos, se cabe ao Estado tutelar os direitos humanos na forma de obrigações erga omnes decorrentes do Direito Internacional em regime de complementariedade com os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, esta tutela deve ser realizada a partir de seus próprios fundamentos e sem qualquer margem à relativização ou mitigação dos princípios fundamentais que os identificam, duma banda, como sistema normativo e institucional de tutela dos bens jurídicos mais relevantes em uma sociedade democrática, uma vez serem decorrência do direito de personalidade que giza o princípio da universalidade, e d’outra assegurar, através de princípios e regras irrenunciáveis, uma esfera de indecidibilidade não somente em favor do indivíduo, mas de fundamentos últimos acerca da legalidade e da legitimidade do Estado de Direito.
Entende-se por esfera do indecidível, segundo Luigi Ferrajoli60, o conjunto de normas fundamentais que estão subtraídas à vontade da maioria e dos próprios órgãos do Estado, e que pode ser identificada por quatro conteúdos essenciais:
a) atinente ao conceito de constituição rígida, ela identifica mais do que princípios reconhecidos pela filosofia política de cariz democrática, mas principalmente como componentes estruturais das atuais democracias constitucionais, determinado pelos limites e pelos vínculos que, em suma, não são externos ao ordenamento jurídico, mas que lhe são intrínsecos e essenciais;
b) sendo os direitos e garantias fundamentais normas de abstenção como também normas mandamentais, a esfera do indecidível identifica o conjunto de garantias de direitos estabelecidos nacional e internacionalmente aos quais os órgãos do Estado devem dar efetividade ótima, bem como submeter-se a seu comando normativo;
c) a esfera do indecidível identifica não somente um conjunto de normas de direitos e garantias fundamentais que objetivam conter o poder do Estado (eficácia vertical), mas também do poder privado, em especial do mercado e seus agentes econômicos (eficácia horizontal), e
d) a esfera do indecidível é traço essencial, constitutivo, do Estado Democrático.
Se os direitos humanos estão subtraídos ao poder de decisão dos órgãos do Estado, posto que estes devem respeitá-los e fazê-los ser respeitados, é certo que, no tocante àqueles direitos não-restringíveis, tais como o direito a não ser torturado, a não ser desaparecido, a não ser submetido à experimentação médica sem o consentimento, a não ser discriminado, a não ser escravizado, a presunção de inocência ou a vedação absoluta à incitação pública do genocídio etc, por se constituem em direitos absolutos, não podem, em nenhuma medida, ser relativizados, mesmo em períodos de excepcionalidade política ou de crises, na medida em que não permitem uma decisão jurídica em sentido inverso.
Assim, e desde uma perspectiva moral e política, é preciso que a sociedade que pretenda ser, de fato e de direito, um Estado de Direito, não se deixar seduzir, para ficarmos na expressão de Adorno, e que foi resgata por Vitor Cei, pelos “incitadores da turba”61 e os seus discursos que nos propõe uma adesão subjetiva à barbárie, projetos estes que se constituem numa das tantas formas pelas quais se manifesta a banalidade do mal62.