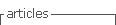Em novembro de 1988, quem escreve estas linhas, defendia sua Tese de Doutorado intitulada “Ao ius publicum commune europeu”1 na Universidade Complutense.
Meu propósito nas seguintes páginas será o de esboçar, com alguns exemplos extraídos de cada década, desde a entrada da Espanha, em janeiro de 1986, às -na época- Comunidades Europeias, o sucedido no contexto do Direito espanhol do ius commune de corte pública, cuja funcionalidade com relação aos setores da vida jurídica nacional situados à margem do raio de ação da atual União Europeia, consistiria não em deslocar, substituindo-os aos ordenamentos dos Estados membros, mas sim em atuar como um molde ao qual estes iriam se acomodando, procedendo esses Estados, ao elaborar e aplicar seu ius publicum proprium , não o fazendo de maneira isolada ou autônoma, mas sim à luz desse mos europaeus.
O mencionado ius commune teria sua origem nos princípios gerais do Direito elaborados a golpe de sentença por um Tribunal de Justiça2, que precocemente assumiu como ferramenta habitual de trabalho a metodologia do recurso aos membros de Direito dos Estados prevista nos Tratados com a prerrogativa de configurar o regime de responsabilidade extracontratual das Comunidades Europeias3.
Assim, confrontado com um problema sobre o qual o Direito positivo comunitário - hoje da União- ficaria em silêncio4 ou seria insuficiente5 aos efeitos de sua solução, o Tribunal de Justiça recorreria aos Direitos nacionais, analisando o tratamento do problema abordado por eles, como regra geral, em termos similares no âmbito estritamente interno (tendo em conta que, em última instância, tanto o Direito público europeu como os Direitos públicos nacionais se inspirariam na mesma filosofia, que não é outra senão a procura de um equilíbrio adequado entre as prerrogativas das autoridades públicas e a esfera jurídica inviolável dos indivíduos; o que seria igual à consecução do “serviço eficaz do interesse geral com a menor redução possível das situações jurídicas, igualmente respeitáveis, dos cidadãos”6). E a partir dessa análise dos Direitos nacionais, o Tribunal de Luxemburgo procederia à construção da síntese europeia, à luz da especial natureza do ordenamento jurídico comunitário; síntese que, como assinalava, seria chamada para reverter, por sua vez, um efeito que poderíamos denominar boomerang, sobre esses mesmos Direitos nacionais, tanto em termos vinculativos (naqueles âmbitos em que os Estados membros estariam atuando como braço executor da União7) como a modo de ius commune (em âmbitos alheios ao raio de ação da União).
Situando-nos no início da década de noventa, concretamente em 19 de junho de 1990, o Tribunal europeu de Justiça emitia sua Sentença para o assunto Factortame, transcendental para o ordenamento jurídico comunitário, considerado em seu conjunto, e além do mais, revolucionaria o sistema jurídico anglo-saxão, que estava na origem da questão prejudicial na qual Luxemburgo tinha sido colocada pela House of Lords a Luxemburgo e que a referida Sentença vinha a responder. Transcendental para o ordenamento comunitário porque nela o Tribunal de Justiça completou sua doutrina Simmenthal, com o sentido de estender o poder-dever dos juízes nacionais de não aplicar por sua própria autoridade toda regra jurídica interna à margem de sua classe normativa, contraria ao Direito comunitário, ao poder-dever de “conceder medidas provisionais para garantir a plena eficácia da resolução judicial que deve recair sobre a existência dos direitos invocados com base no Direito comunitário”. E revolucionaria para o sistema jurídico anglo-saxão, porque com a sua falha o Tribunal de justiça obrigava aos juízes britânicos a descartar “a antiga norma do common law, segundo a qual não pode conceder-se nenhuma medida provisional contra a Coroa, isso quer dizer, contra o Governo; norma que havia que interpretar em relação com a presunção de que as leis nacionais estão conformes ao Direito comunitário, enquanto não haja se resolvido sobre a sua compatibilidade com este Direito”.
No que diz respeito ao ordenamento jurídico espanhol, o Tribunal Supremo faria uma menção en passant de Factortame em seu pioneiro Despacho de 17 de fevereiro de 1991, (que por sua vez mencionava outro de 20 de dezembro de 1990, do que não existe rastro no Buscador de Jurisprudência CENDOJ, mas que foi em seu momento comentado pelo Mestre García de Enterría no nº 69 da REDA).
Várias questões são dignas de advertência a respeito.
Em primeiro lugar, como no mencionado Despacho, ao que seguirão muitos outros (cfr. p.e. nos dias de 14 de março 1996, 4 de junho de 1997, e 24 de fevereiro de 1998), o Tribunal Supremo atribuiu ao Tribunal de Justiça o princípio de que a «necessidade de recorrer ao processo para obter a razão não deve prejudicar a quem tem a razão», a pesar de que em nenhum momento o mencionado princípio se obtinha na mesma Sentença, mas sim nas Conclusões, muito mais elaboradas e matizadas, de seu Advogado Geral Tesauro (quem, além disso, não esconderia seu mal-estar ante a futilidade com a que o Tribunal de Justiça abordou finalmente a questão - à que dedicou apenas seis FFJJ-, tendo em conta que, “não se tratava de remover uma simples disposição nacional, como uma leizinha “leggina” sobre a etiquetagem d’agua mineral, mas um princípio fundamental do sistema processual anglo-saxão”8). De fato, uma leitura detalhada de Factortame deixa entrever que o discurso do Tribunal de Justiça ia dirigido não tanto, a salvaguardar a posição subjetiva do indivíduo desde a perspectiva do direito à tutela cautelar, como fortalecer ao máximo situado no plano objetivo das relações ornamentais, a primazia do ordenamento jurídico comunitário sobre o interno dos Estados membros (de fato, também, assinalamos uma vez mais que o Tribunal não duvidou em apresentar Factortame como uma prolongação natural de Simmenthal).
Em segundo lugar, muito particular foi a leitura pelo Tribunal Supremo, estimulado pelo Mestre (cfr. A batalha pelas medidas cautelares9), do alcance exato do poder-dever dos juízes nacionais, proclamado em Factortame, de suspender cautelarmente medidas nacionais prima facie contrarias ao Direito comunitário. E é que, em efeito, em nenhum momento se referiu o Tribunal de Justiça aos critérios de controlar por mencionados juízes o instante de adotar tal suspensão: nem se referiu ao fumus boni iuris, nem ao periculum in mora, nem, enfim, à ponderação dos interesses em jogo. Antes, ao contrário, seu silêncio a respeito pareceu encobrir uma remissão aos Direitos nacionais na linha explicitamente defendida pelo Advogado Geral Tesauro, que concluiu sua opinião sustentando que “ao não existir nesta matéria normas comunitárias uniformes, incumbe ao ordenamento jurídico dos Estados membros regular as modalidades de procedimento e os requisitos da tutela cautelar dos direitos reconhecidos aos particulares pelas normas comunitárias diretamente aplicáveis sempre que tais modalidades e requisitos não tornem impossível o exercício provisional dos direitos alegados e não sejam menos favoráveis que os previstos para proteger os direitos fundamentados em normas nacionais, por qualquer disposição ou prática nacional que produzisse este efeito incompatível com o Direito comunitário”.
Tal remissão aos Direitos nacionais, na realidade, seria abertamente assumida pelo próprio Tribunal em sua Sentença de 13 de março de 2007 (assunto Unibet), e continua até o dia de hoje vigente à espera de uma possível revisão pelo Tribunal de Justiça de sua concepção das medidas cautelares, desde a perspectiva, não tanto da primazia do Direito da União, como da tutela judicial efetiva na atualidade consagrada no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União, que obrigaria a uma homogeneização dos critérios para sua adoção10, até o momento limitada às medidas cautelares a adotar, diante do Direito da União (e não, por tanto, diante do Direito interno), tanto pelo juiz europeu como pelo juiz nacional11.
Mas à margem desta última possibilidade, interessa agora advertir, em terceiro lugar, a utilização do Direito público comunitário (no exemplo que nos ocupa da justiça administrativa cautelar) pela nossa doutrina e jurisprudência (de maneira, insiste-se, não precisamente exata em atenção à sua fonte com um acento sobre o critério do fumus boni iuris que nem vinha imposto por Luxemburgo, nem ali tinha - nem tem- o protagonismo que aqui se quis dar12, hoje, muito matizado, segundo se desprende por citar algum exemplo recente, da Sentença da Sala Terceira de 24 de fevereiro de 201613) a modo de ius commune, servindo como revulsivo para replantar, com caráter geral (i.e, à margem de um raio de ação do ordenamento jurídico comunitário) o controle, até esse momento em termos quanto menos lânguidos das medidas cautelares por nossa jurisdição contencioso-administrativa; revulsivo que terminaria por encontrar apoio no Tribunal Constitucional que, em sua Sentença de Pleno 238/1992, de 17 de dezembro de 1992, chegaria a afirmar o seguinte: “Certamente, o art. 24.1 C.E. não faz referência alguma às medidas cautelares nem à potestade de suspensão, mas dele não pode inferir-se que fique livre o legislador de todo limite para dispor ou não medidas daquele gênero ou para ordená-las sem condicionamento constitucional algum. A tutela judicial tem que ser, por imperativo constitucional, «efetiva», e na medida em que seja ou não, deve encontrar-se na suficiência das potestades atribuídas por lei aos órgãos do poder judicial para, efetivamente, salvaguardar os interesses ou direitos cuja proteção se exige. Por isso, é necessário reiterar agora o que afirmamos em nossa STC 14/1992, isto é, que a tutela judicial não é tal sem medidas cautelares que assegurem o efetivo cumprimento da resolução definitiva que recai no processo” (e “em consequência”, acrescentaria o Tribunal a continuação, “reconhecida por lei a executividade dos atos administrativos, não pode o mesmo legislador eliminar de forma absoluta a possibilidade de adotar medidas cautelares dirigidas a assegurar a efetividade da Sentença estima que pudesse ditar-se no processo contencioso-administrativo; pois, com isso, viria a privar aos litigáveis de uma garantia que, por equilibrar e ponderar a incidência daquelas prerrogativas, configura-se como conteúdo do direito à tutela judicial efetiva”).
Situemo-nos agora a finais da década de noventa; concretamente, no dia 13 de janeiro de 1999, data de adoção da Lei 4/1999, de modificação da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Régime Jurídico das Administrações Públicas e do Procedimento Administrativo Comum.
Em sua Exposição de Motivos, a Lei 4/1999 destacava como “no Título preliminar se introduzem dois princípios de atuação das Administrações públicas, derivados da segurança jurídica. Por uma parte, o princípio de boa-fé, aplicado pela jurisprudência contencioso-administrativa inclusive antes de sua recepção pelo título preliminar do Código Civil. Por outra, o princípio, bem conhecido no direito procedimental administrativo europeu e também recolhidos pela jurisprudência contencioso-administrativa, da confiança legítima dos cidadãos em que a atuação das Administrações públicas não pode ser alterada arbitrariamente”.
Vejamos, brevemente a história da incorporação deste último princípio de confiança legítima em nosso Direito positivo, hoje amparado no parágrafo 1 e) do artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Régime Jurídico do Setor Público.
Mencionado anteriormente, bem conhecido nos ordenamentos jurídicos alemão e holandês14, foi em um determinado momento assumido pelo Tribunal de Justiça como próprio do ordenamento jurídico comunitário15, o que implicava obrigação de seu respeito não só pelas Instituições europeias, senão também pelos Estados membros não familiarizados com o mesmo, em sua faceta de executores do Direito comunitário.
No caso da Espanha, a confiança legítima foi pouco a pouco impregnando a mente dos operadores jurídicos, até o ponto de começar a ser invocado antes e aplicado pelos tribunais, em setores por completo alheios ao Direito comunitário.
Assim, já em 1988 o Conselho de Estado, em sua Memória correspondente ao mencionado ano, soube ver as possibilidades que, em relação a confiança legítima oferecia para nosso ordenamento jurídico, tanto dentro como fora da vida jurídica comunitarizada, a então recente incorporação às Comunidades Europeias.
Com efeito, fazendo eco da doutrina constitucional apontada em relação com a antecipação da idade de aposentadoria de juízes e magistrados, considerada na STC 108/1986, de 29 de junho, como portadora de uma “frustração de expectativas existentes e em determinados casos prejuízos econômicos que possam merecer algum gênero de compensação”16, o Conselho de Estado considerou oportuno sugerir “a introdução de categorias dogmáticas intermediarias (como a de direitos expectantes, entre direitos plenos consolidados e meras expectativas)”, que, “ainda não sendo vigas globalmente para obstar o exercício da potestade ordenadora, sim podem ser algumas de suas manifestações -por conexão com outros direitos ou por inocuidade a respeito do efeito reformador pretendido- e devem ser medidos e indenizados quando a ação pública -incluída a do legislador- comporte efeitos privativos ou sacrifícios individualizáveis que, se resultarem requeridos pelo interesse público à comunidade, enquanto beneficiaria da satisfação de tal interesse, corresponde reparar”.
Sugerido o qual, o Conselho de Estado, depois de advertir que ao fim indicado podia acreditar “especial relevância e fecundidade” o princípio de confiança legítima, elevado à categoria de princípio geral europeu pelo Tribunal de Justiça, explicou o seguinte: “Não é, certamente, um princípio de valor absoluto capaz de bloquear toda tentativa de modificação ou reforma, mas sim, protege eficazmente diante à mudança brusca e por surpresa, diante à alteração sensível de uma situação cuja durabilidade podia legitimamente confiar-se, sem dar tempo nem meios ao afetado para reequilibrar sua posição ou adaptar-se à nova situação”. E acrescentou: “Este princípio tem um caráter geral, ainda que acostumado a operar com preferência no campo econômico e no funcionalismo, - está vinculado aos princípios de segurança jurídica, boa-fé, interdição da arbitrariedade e outros, com os que costumam combinar-se e, claramente, não exige a preexistência de direitos subjetivos perfeitos, que tem outras vias de proteção”17.
Não deixando para trás nem a doutrina (na mesma linha que o Conselho de Estado se pronunciavam García de Enterría e Tomás Ramón Fernández em 1989, na quinta edição de seu “Curso de Derecho Administrativo I,” p. 88), nem a jurisdição contencioso-administrativa,
com o Tribunal Supremo relembrando em 1991 (Sentença de 7 de outubro)18 que “o princípio constitucional de segurança jurídica não pode desapontar o princípio jurisprudencial de confiança legítima proclamado pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia e assumido pela jurisprudência desta Sala que agora processa”19.
A confiança legítima, voltaria a insistir o Conselho de Estado em sua Memória correspondente ao ano de 1994 (p. 178), é um princípio que, “invocado originariamente pela jurisprudência alemã, assumido depois pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e aceitado também por nosso Tribunal Supremo tem por objetivo proteger aos interessados, ainda que não ostentem verdadeiros direitos adquiridos, diante à alteração brusca de uma situação cuja durabilidade podia legitimamente confiar-se”. E acrescentou, não sem antes deixar de relembrar novamente seu vínculo com outros princípios enunciados no artículo 9.3 da Constituição: “Não se quebra esse princípio quando se tem conhecimento da medida invocadora com tempo suficiente para adaptar-se a ela ou quando se estabelecem na mesma compensações adequadas; quebra-se, em contrapartida, o princípio de confiança legítima se a medida adotada -que supõe uma mudança radical de régime- se aplicara de imediato e não fosse previsível nem consequente com o sistema no qual se integra”.
Enfim, e como adiantava, o próprio legislador terminaria por incorporar mencionado princípio, em termos já de autêntico ius proprium positivado, e pelo que ao comportamento da Administração Pública se refere, na Lei 4/199920.
Novamente, igual ao que aconteceu no terreno das medidas cautelares, um princípio de Direito público europeu, neste caso o de confiança legítima21, serviu, a modo inicialmente de ius commune, para potenciar, em raios internos de ação alheios à da agora União Europeia, a proteção de determinadas expectativas -legítimas- até esse momento descuidadas em nosso ordenamento jurídico22. E uma vez incorporado como ius proprium, tem servido para fortalecer algumas de suas ramificações formais, como a participação cidadã no procedimento de elaboração de normas23, reforçada pela Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Comum24 (cujas principais novidades, sua Exposição de Motivos destaca a “necessidade de solicitar com caráter prévio à elaboração da norma, a opinião de cidadãos e empresas próximas dos problemas que se pretendem solucionar com a iniciativa, a necessidade e oportunidade de sua aprovação, os objetivos da norma e as possíveis soluções alternativas regulatórias e não regulatórias”, em uma tentativa de melhorar a participação à que se refere o artigo 105 da Constituição, adiantando a intervenção dos particulares à existência de um rascunho normativo com a finalidade de facilitar uma captação de opiniões que se vertidas sobre um texto já redigido, resultam como regra geral mais difíceis de assumir).
E novamente também, como acontece com o resto dos princípios gerais de Direito europeu que vão sendo elaborados e aperfeiçoados em Luxemburgo via pretoriana, terá que seguir estando atentos à evolução da confiança legítima no contexto global da União, isto é, incluídos os ordenamentos jurídicos dos Estados membros25.
Na Espanha, e retomando a doutrina constitucional sobre a confiança legítima e a atividade do legislador, neste caso de urgência, cabe destacar a recente STC 270/2015, de 17 de dezembro, em relação com as energias renováveis (concretamente, em relação com a produção de energia elétrica através da tecnologia solar fotovoltaica). Nela, e trazendo a colação, a categoria do “operador econômico prudente e diligente” que já controlara o Tribunal de Justiça em sua Sentença de 1 de fevereiro de 1978 (assunto Lührs), o Tribunal Constitucional, confluindo com a doutrina do Tribunal Supremo26, alargou ao máximo o conceito de “risco regulatório”27 aos efeitos de marcar os limites de uma confiança legítima28 que, no entanto, e em relação com um sistema nacional (sueco) de apoio à energia verde, tinha sido abordada pelo Tribunal de Justiça, em sua Sentença de 1 de julho de 2014 (assunto Vindkraft), nos seguintes termos: “O sistema de apoio à energia verde cujo custo de produção é como relembraram concretamente o Governo sueco e a Comissão, ainda bastante elevado em comparação com o da eletricidade produzida a partir de fontes de energia não renováveis, tem por objetivo, em essência, favorecer, em uma perspectiva a largo prazo, investimentos em novas instalações, dando aos produtores determinadas garantías enquanto ao desenvolvimento futuro de sua produção de eletricidade verde. Deste modo, a efetividade de tal sistema requer, por definição, uma certa permanência que permita concretamente garantir o respeito da confiança legítima dos investidores que se comprometeram nesta via e assegurar a continuidade da exploração destas instalações”29.
Assim, como os referidos exemplos da justiça cautelar e da confiança legítima resultam ilustrativos em relação da função do Direito da União enquanto ius commune aos efeitos de fortalecer a posição jurídica do administrado (sem prejuízo de que o entusiasmo “importador” inicial tenha dado passo a um certo esfriamento com o transcurso do tempo30), assim, no âmbito da responsabilidade do poder público, segundo passo a expor, o sistema jurídico da União tenha terminado por provocar uma evolução de nossas regras de responsabilidade em um sentido inverso, i.e., aos efeitos de debilitar a posição jurídica do administrado, quando menos, desde uma perspectiva processual, até consolidar-se mencionada debilitação em termos de ius proprium por decisão do legislador do regime jurídico do setor público. Isto, além do mais, e por outro lado, em um confuso contexto no qual resulta duvidoso que o manuseio do método europeu de responsabilidade como fonte direta de aplicação, i.e., nos raios internos de ação sim, cobertos pelo Direito da União, seja conforme aos critérios apontados desde Luxemburgo.
Começando por esta última afirmação, tem que advertir como o princípio de responsabilidade dos Estados membros por infração do Direito da União, por primeira vez proclamado pelo Tribunal de Justiça em sua Sentença de 19 de novembro de 1991 (assunto Francovich e.a.)31, costuma apresentar-se emoldurado nos seguintes parâmetros: desde uma perspectiva material (e tal e como hoje recolhe, interiorizando a doutrina de Luxemburgo, o artigo 32.5 -sobre o que voltaremos- da Lei 40/2015, de Régime Jurídico do Setor Público), a infração, para poder gerar responsabilidade, tem que ser de uma norma que tenha por objetivo conferir direitos aos particulares e tem de resultar “suficientemente caracterizada”, ao que deve adicionar-se, em terceiro lugar, a exigência de uma relação de causalidade direta entre a infração e o dano sofrido; e desde uma perspectiva formal, as regras que presidem esta ação de responsabilidade, a ventilar perante os tribunais internos (auxiliados em seu caso via prejudicial pelo Tribunal de Justiça), mais além das condições substantivas recém mencionadas que derivam do régime europeu, são as nacionais32, sempre e quando respeitem os princípios de equivalência (tais regras não podem ser menos favoráveis que as que presidem as ações baseadas em puro Direito interno) e efetividade (não podem fazer impossível ou excessivamente difícil o direito de reparação).
Acontece, entretanto, que tal apresentação não é em absoluto exata nem correta, tendo em conta que, também em relação com as exigências materiais ou substantivas, o Tribunal de Justiça, falhando em Grande Seção, remete aos Direitos nacionais nos seguintes termos: “os três requisitos [i.e., quando se tenha acreditado que a norma jurídica violada tem por objetivo conferir direitos aos particulares e exista uma relação de causalidade entre a violação suficientemente caracterizada alegada e o dano sofrido pelo interessado] são necessários e suficientes para gerar a favor dos particulares, um direito a obter reparação, sem excluir, não obstante, que, com acordo ao Direito nacional, o Estado possa incorrer em responsabilidade, em virtude de requisitos menos restritivos” (doutrina sentada em 1996 nos assuntos acumulados Braserie du Pêcheur e Factortame, e reiterada, entre outras, pela Sentença de 17 de abril de 2007, assunto A.G.M.-COS.MET).
Partindo de tal premissa, a Cour de Cassation belga, em sua Sentença de 14 de janeiro de 200033, e depois de advertir (no marco de uma ação de responsabilidade exercida contra o Estado por não haver permitido, vulnerando o princípio de livre circulação de mercadorias, a homologação de autocarros procedentes de outros Estados membros) que constituía “uma falta no sentido dos artigos 1382 e 1383 do Código Civil, suscetível de gerar a responsabilidade civil de seu autor se a mesma causa um dano, todo ato ou omissão que violem uma norma de Direito
internacional dotada de efeito direto ou uma norma de Direito interno que imponha aos sujeitos de Direito uma ação ou uma abstenção de maneira determinada”, declarou que “não é necessário sobre a base dos artigos 1382 e 1383 do Código Civil, para gerar a responsabilidade do poder executivo no exercício de sua potestade regulamentar e como consequência da violação de uma norma de Direito internacional - como uma disposição diretamente aplicável do Tratado CE-, que mencionada violação seja, além do mais, suficientemente caracterizada, por muito que tal exigência seja requerida pelo Tribunal de Justiça para gerar, no ordenamento jurídico comunitário, a responsabilidade das autoridades comunitárias ou dos Estados membros por violação do Direito comunitário”34.
Não tem sido esse, entretanto, o caminho seguido até o momento em nosso país, onde tanto o Tribunal Supremo como o Conselho de Estado tenham excluído a possibilidade de deslocar o régime europeu de responsabilidade pelo -por hipótese- régime interno mais favorável: o Conselho, argumentando, sem maior profundidade, que nosso requisito da antijuricidade não é menos restritivo que o da violação suficientemente caracterizada; o Supremo, sustentando a impossibilidade de aplicar o régime nacional na ausência de similitude dos casos abordados por ambas ações de responsabilidade, diante a leis inconstitucionais e diante a leis anti-europeias (similitude que, em sua opinião, seria conditio sine qua non para proceder a um análise comparativo de regimes em orden á eleição do mais generoso para o administrado).
Á margem das bondades de tais raciocínio, sobre os que voltaremos35, interessa pelo momento esclarecer que a questão apontada a respeito, não à gestão do Direito da União, enquanto ius commune, senão a sua gestão enquanto fonte direta, imposta em virtude de nossa pertinência à União, i.e., de toma forçada em consideração pelos Estados membros, incluída a Espanha, na medida em que estariam atuando dentro do raio de ação da União (o régime europeu de responsabilidade ao que viemos nos referindo é o aplicável, relembremos, os danos e prejuízos derivados de infrações do Direito da União tanto pela União como por seus Estados membros).
Questão distinta ainda que, não alheia à anterior, e que passamos a abordar, é a incidência que o régime europeu de responsabilidade tenha podido ter em nosso próprio regime à margem de imposições derivadas de nossa pertinência à União, i.e., no contexto dos danos e prejuízos que os poderes públicos espanhóis possam ocasionar aos particulares por ações ou omissões estranhas ao Direito da União; incidência que, já adianto, se tenha produzido em termos vinculados, não tanto com a natureza da infração que estaria na origem do dano (não há havido até o momento casos, salvo erro de minha parte, em que a qualificação de mencionada infração como “suficientemente caracterizada” seja exigida por nossos tribunais aos efeitos de admitir responsabilidades por ações ou omissões vinculadas estritamente ao Direito interno, ou o que é igual, à margem do Direito da União), como com o comportamento da vítima do dano.
É o momento, depois de trazer a coligação o assunto Transportes Urbanos no que, em resposta a uma questão prejudicial proposta pelo Tribunal Supremo, o Tribunal de Justiça, através da Sentença de 26 de janeiro de 2010, declarou contrária ao Direito da União a doutrina do próprio Tribunal Supremo que outorgava um trato menos favorável ao administrado em relação com as ações de responsabilidade por leis ante europeias, se comparado com o régime aplicável às ações de responsabilidade por leis inconstitucionais: “O Direito da União”, falhou, o Tribunal de Justiça, “se opor à aplicação de uma regra de um Estado membro em virtude da qual uma reclamação de responsabilidade patrimonial do Estado baseada em uma infração de mencionado Direito por uma lei nacional declarada mediante sentença do Tribunal de Justiça ditada com um acordo do artigo 226 CE [atual 258 TFUE] só pode estimar-se se o demandante tenha esgotado previamente todas as vias de recurso internas dirigidas a impugnar a validade do ato administrativo lesivo ditado sobre a base de mencionada lei, enquanto que tal regra não é de aplicação a uma reclamação de responsabilidade patrimonial do Estado fundamentada na infração da Constituição pela mesma lei declarada pelo órgão jurisdicional competente”.
Ainda sem aprofundar neste pronunciamento, muito comentado dentro e fora de nossas fronteiras, sem que interessa destacar como o principal argumento apresentado pelo Tribunal Supremo para inclinar-se pela não extensão do mais favorável régime processual de responsabilidade por leis inconstitucionais no terreno das leis “ante europeias”, ao saber da ausência de similitude entre ambos casos, foi rejeitado em Luxemburgo sobre a base de que a única diferença assinalável entre as reclamações baseadas em sendo regimes, consistente em que as infrações jurídicas em que se sustentariam teriam sido declaradas, em um caso, pelo Tribunal Constitucional, e no outro, por uma sentença do Tribunal de Justiça, não bastaria para estabelecer uma distinção de régime entre ambas reclamações à luz do princípio de equivalência. O qual não deixa ser um antecedente importante aos efeitos de analisar as bondades do raciocínio do mesmo Tribunal Supremo, já apontado, sobre a impossibilidade sequer de comparar o critério interno da “antijuricidade” com o europeu da “caracterização suficiente” da infração.
Também cabe destacar, por outro lado, que uma vez recebida a resposta do Tribunal de Justiça, nosso Tribunal Supremo não estava inexoravelmente obrigado como, entretanto, faria em sua Sentença de 17 de setembro de 201036, a estender sua doutrina sobre as leis inconstitucionais ao contexto das leis anti europeias. E isso porque, como se advertiu em seu momento37, bem teria podido optar por modificar sua própria doutrina sobre as ações de responsabilidade por leis inconstitucionais (o que não fez em sua Sentença de Pleno de 2 de junho de 201038) aos efeitos de condicionar seu exercício, e também o das ações de responsabilidade por leis ante europeias, para o prévio esgotamento dos recursos disponíveis diante dos atos de aplicação de umas e outras.
Tal operação, ainda que, resultando desfavorável para o administrado, não deixaria de respeitar tanto o princípio de equivalência39 como parece, o de efetividade40, seria finalmente praticada pela Lei 40/2015, ao dispor nos parágrafos 4 e 5 de seu artigo 32 que se a lesão é consequência da aplicação de uma lei declarada inconstitucional ou de norma declarada contrária ao Direito da União Europeia, procederá sua indenização quando o particular houver obtido, em qualquer instância, sentença firme de indeferimento de um recurso contra a atuação administrativa que ocasionou o dano, sempre que, além disso, se tenha alegado, respectivamente, a inconstitucionalidade ou a infração do Direito da União Europeia posteriormente declarada41.
Dito isto, uma coisa é que a recente Lei do Setor Público pareça respeitar os referidos princípios de equivalência e efetividade42 (pelos demais exigíveis, com caráter geral, na ausência ou insuficiência do Direito da União, enquanto às regras orgânicas e procedimentais que tenha de presidir sua aplicação no âmbito interno), e outra distinta, assumir que o mesmo acontece com o princípio de aplicação do régime substantivo mais favorável (que, também parece e como vimos, há de presidir, especificamente, o controle pelo juiz nacional das regras substantivas, europeias e internas, de responsabilidade por infração do Direito da União).
Deste modo, e deixando de um lado o debate sobre se o regime espanhol de responsabilidade puramente ad intra (i.e., à margem do raio de ação do Direito da União) ou deixa de ser em excesso generoso para com os particulares43, está por vir que mencionado regime não seja, como vem sustentando o Conselho de Estado, mais favorável que o europeu, quando menos diz respeito à atividade do legislador formal, em relação com a qual o Tribunal Supremo vem identificando a antijuricidade com a mera declaração de inconstitucionalidade44, isto é, sem qualificação especial alguma a modo da “caracterização suficiente” exigida para a declaração de responsabilidade por leis ante europeias45; e outro tanto, parece que caberia sustentar em relação com a ausência em nosso regime puramente interno da exigência, tal e como aparece enunciada no regime europeu, de que a infração se refira a una norma que tenha “por objetivo conferir direitos aos particulares”.
Enquanto ao argumento da ausência de similitude entre as ações de responsabilidade para proceder a sua comparação e, a partir da mesma, à eleição em seu caso do regime substantivo ou material mais favorável para o administrado, o Tribunal Supremo, ainda manifestando certas dúvidas ao respeito, insistiria em sua Sentença de 22 de setembro de 201446, em diferenciar vias de reclamações de responsabilidade, por leis inconstitucionais e por leis anti europeias, aos efeitos de eludir o deslocamento da “violação suficientemente caracterizada”; e o faria em uns termos realmente surpreendentes, à luz do pronunciamento do Tribunal de Justiça em Transportes Urbanos: “Retomada a deliberação e atendidas as alegações das partes e do Ministério Fiscal”, declarou o Tribunal Supremo, “está sala chegou ao convencimento de que não existe realmente similitude entre a declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Tribunal Constitucional e a estimação de um recurso por incumprimento pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E ao não existir verdadeira similitude entre ambos casos, é claro que o princípio de equivalência e efetividade sobre cujo alcance foram ouvidas as partes e o Ministério Fiscal, a efeitos de uma possível explicação de questões prejudicial- não resulta de aplicação”. Tal declaração, como dizíamos, não deixa de surpreender à luz de Transportes Urbanos, onde, relembremos que o Tribunal de Justiça, traz constatar que “a única diferença existente entre as duas reclamações mencionadas [baseadas na infração do Direito da União e na infração da Constituição] consiste em que as infrações jurídicas nas que se baseiam hajam sido declaradas, em um caso, pelo Tribunal de Justiça através de uma sentença ditada com um acordo no artigo 226 CE e, em outro, por uma sentença do Tribunal Constitucional”, alegou que “esta única circunstância, a falta de qualquer menção no despacho de remissão de outros elementos que permitam declarar a existência de outras diferenças entre a reclamação de responsabilidade patrimonial do Estado por infração do Direito da União e aquela que poderia interpor-se sobre a base de uma infração da Constituição declarada pelo Tribunal Constitucional, não basta para estabelecer uma distinção entre ambas reclamações à luz do princípio de equivalência”.
Assim as coisas, e mais além do que a diferente natureza das ações de responsabilidade poderia talvez chegar a sustentar-se em outros critérios, o correto é que nem a Lei 40/2015 tem fechado o debate em torno ao possível deslocamento do regime europeu de responsabilidade pelo que, - supostamente - mais favorável interno47, nem se tem explorado todas as virtualidades que em nosso ordenamento jurídico poderia chegar a desdobrar mencionado regime em termos de ius
commune, como, por exemplo, no terreno das omissões normativas geradoras de danos e prejuízos (omissões que, convém não esquecer, estão na origem da mesma proclamação da responsabilidade dos Estados membros por infração do Direito comunitário em Francovich e.a.48, e cujas consequências em nosso ordenamento à margem do raio de ação da União estão ainda por perfilar49).
Para outro momento ficam, entretanto, subsequentes reflexões ao respeito, aproveitando a enriquecedora livre circulação de ideias e técnicas jurídicas que, junto à livre circulação de mercadorias, serviços, capital e trabalho -essência do mercado interior-, nos contribuiu há trinta anos nossa entrada à, - na época-, União Europeia50, e sobre a que, em última instância, deve seguir assentando-se a percepção de uma consciência europeia, imprescindível para avançar, como já previa o Tratado da Comunidade em 1957 na primeira frase de seu Preâmbulo, há “uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus”.