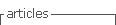1. INTRODUÇÃO
O Direito Internacional Privado (DIPr) consiste em um conjunto de normas (nacionais ou internacionais) que regula (i) a escolha de uma regra de regência sobre fatos transnacionais (também chamados de fatos mistos, fatos interjurisdicionais ou fatos anormais), bem como a fixação de uma jurisdição para solucionar eventuais litígios sobre tais fatos, além de estudar as fórmulas de cooperação jurídica internacional entre Estados1.
O objeto da disciplina implica no reconhecimento do outro, fazendo que o Direito Internacional Privado seja uma matéria de tolerância e respeito as diferenças, como apregoa Erik Jayme2.
Assim, na atualidade, o Direito Internacional Privado preocupa-se também com uma consequência importante desse reconhecimento do outro: a implementação de pedidos e decisões de um ordenamento jurídico em outro. Fortalece-se, diariamente, um segmento importante e de amplo espectro (abrangendo causas cíveis), do novo Direito Internacional Privado, que é a cooperação jurídica internacional.
Fica, evidente, que há aspectos processuais que compõem o objeto do Direito Internacional Privado. Por isso, o presente artigo enfocará a essência desses aspectos processuais, que consiste na cooperação jurídica internacional.
O pilar do presente estudo sobre a cooperação jurídica internacional consiste no reconhecimento da existência de uma pluralidade de fontes que rege a matéria, que advém de normas internacionais e nacionais. Neste artigo, abordarei o desafio da cooperação jurídica internacional no Direito Internacional Privado contemporâneo na realização do diálogo das fontes na cooperação jurídica internacional, evitando que divergências entre normas nacionais e internacionais acarretem denegação de justiça e impedimentos à cooperação.
Para tanto, serão analisados os modelos da cooperação jurídica internacional, mostrando as diferentes abordagens da temática: desde o modelo soberanista até o modelo integracionista.
Após, serão detalhadas as normas internacionais e nacionais que regem a cooperação jurídica internacional no Brasil.
Finalmente, serão expostos os modos pelo qual eventuais antinomias e divergências são solucionadas pelos diferentes tipos de diálogo das fontes.
2. MODELOS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
A cooperação jurídica internacional (CJI) consiste no conjunto de regras internacionais e nacionais que rege atos de colaboração entre Estados, ou mesmo entre Estados e organizações internacionais, com o objetivo de facilitar e concretizar o acesso à justiça3.
Essa temática desenvolveu-se no Direito Internacional motivada pela existência de Estados soberanos cujo poder restringe-se, em geral, aos limites de seu território. Tal restrição impulsiona o Estado a solicitar cooperação dos demais para aplicar o direito em casos que envolvam condutas fora do seu território. Na medida em que as situações transnacionais multiplicam-se, a necessidade de elaboração de normas internacionais sobre cooperação aumenta proporcionalmente.
As formas de cooperação variaram ao longo dos séculos no Direito Internacional para atender as necessidades dos Estados de regular as mais diversas situações transnacionais.
Do ponto de vista histórico, a extradição em sentido amplo e entendida como o pedido de entrega de pessoas de um Estado a outro, pode ser considerada a espécie cooperacional mais antiga, com antecedentes remotos na Antiguidade Oriental4. Contudo, a extradição em sentido estrito, que é modalidade de cooperação jurídica internacional em matéria penal pela qual um Estado entrega outro indivíduo para ser processado penalmente ou para cumprir pena criminal em outro Estado5 surgiu somente no século XVIII, na Europa, com a celebração do tratado de 1765, entre Espanha e França6.
A evolução da cooperação jurídica internacional em um mundo dividido em uma constelação de soberanias estatais mostra que, de início, sua realização era fundada na cortesia entre Estados, não sendo uma obrigação internacional. Essa fase da cooperação preservava fortemente a soberania estatal, prevalecendo a normatividade interna na regulação da cooperação. Nesse período, afirma-se o predomínio da lex fori na interpretação dos atos a serem cumpridos provenientes do Judiciário estrangeiro e do uso da ordem pública para impedir a sua aplicação indireta. Trata-se, então, de um modelo soberanista de cooperação jurídica internacional7.
Posteriormente, a cooperação jurídica internacional passa a contar com modelo intergovernamental oriundo de convenções internacionais celebradas pelos Estados, os quais uniformizam o tratamento dado aos pedidos de colaboração interjurisdicional, fornecendo efetividade a provimento judicial estrangeiro no território de cada contraente. Esse modelo é típico do Direito Internacional, no qual a reciprocidade e a necessidade de cooperação amenizam a desconfiança com as diferenças entre os sistemas internos de direito material8.
Na segunda metade do século XX, surge o terceiro modelo, que vem a ser o modelo da integração, supranacional, no qual as regras do bloco integracionista eliminam também barreiras à circulação dos pedidos cooperacionais. Esse modelo é caracterizado pela existência de (i) regras comuns elaboradas pelo próprio bloco e também pela (ii) afirmação do princípio do reconhecimento mútuo, pelo qual um pedido realizado de acordo com o direito de um Estado (membro do bloco) deve ser considerado adequado e, em geral, cumprido por outro Estado.
O Brasil encontra-se plenamente inserido no segundo modelo, já tendo celebrado diversos tratados cooperacionais, tendo sido previsto, no Código de Processo Civil, que a cooperação jurídica internacional poderá ser prestada mesmo sem a celebração de tratado com o outro Estado, caso haja promessa de reciprocidade (artigo 26, § 1º9). A inserção brasileira no terceiro modelo é ainda incipiente, embora o país faça parte do Mercosul (Mercado Comum do Sul), eis que os tratados cooperacionais celebrados no âmbito do Mercosul pouco diferem, em conteúdo, dos tratados celebrados fora do bloco. Faltam ainda (i) aprofundar a confiança e o (ii) reconhecimento mútuo, que foram essenciais para que a cooperação jurídica dentro da União Europeia se tornasse mais célere e simplificada do que a cooperação com terceiros Estados.
Com base nesses dois últimos modelos, outras espécies de cooperação foram criadas pelos Estados, gerando o desenvolvimento de uma diversidade de espécies cooperacionais no Direito Internacional, com os mais variados objetos, tanto em matéria criminal quanto em matéria cível.
3. AS FONTES INTERNACIONAIS E NACIONAIS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
3.1. Aspectos Gerais
No Brasil, o Direito Internacional Privado no seu segmento referente à cooperação jurídica internacional possui fontes de origem internacional e nacional, inclusive com dispositivos constitucionais que tratam de algumas espécies cooperacionais.
Essa duplicidade de fontes normativas acarreta complexidade na análise do tema, uma vez que será necessário verificar a convergência e diálogo entre as fontes, evitando-se, por exemplo, que o Brasil adote determinada conduta em um pedido cooperacional que venha a violar compromissos internacionais (o que implicará no futuro, na retaliação e negativa de cooperação do Estado ofendido) ou, vice-versa, que o Brasil negocie e depois celebre tratados de cooperação de duvidosa constitucionalidade.
3.2. As fontes internacionais
As fontes do Direito Internacional são: (i) os tratados, (ii) os costumes internacionais, (iii) os princípios gerais de direito, (iv) ato unilateral, (v) resoluções vinculantes de organizações internacionais e, ainda, (vi) doutrina e (vii) jurisprudência. O rol de fontes aceito pelo Direito Internacional consta do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de 1946 (sucessora da Corte Permanente de Justiça Internacional, cujo estatuto, de 1920, foi reproduzido pela nova Corte).
No campo da cooperação jurídica internacional, os tratados representam importante fonte normativa, uma vez que oferecem segurança jurídica sobre o modo de realizar a cooperação, bem como asseguram sua continuidade enquanto o tratado for válido internacionalmente. Essa fonte da CJI é a que mais se desenvolve hoje no mundo.
O Brasil já ratificou e incorporou internamente dezenas de tratados cooperacionais nas suas mais diversas espécies: da extradição à transferência de sentenciados. Há tratados celebrados pelo Brasil no bojo das relações bilaterais (os chamados tratados bilaterais) e ainda multilaterais, que abrangem mais de dois Estados. Um dos tratados mais longevos é a Convenção Panamericana de Direito Internacional Privado (Código Bustamante), que rege a extradição e a carta rogatória.
Além disso, a CJI é um dos temas mais discutidos na Organização das Nações Unidas na atualidade, o que patrocinou a edição de vários tratados multilaterais constantemente aplicados no Brasil contendo normas cooperacionais, como a Convenção de Palermo de combate ao Crime Organizado Transnacional (de 200010) ou a Convenção de Mérida de Combate à Corrupção (200311).
Também o Brasil participa ativamente de dois foros especializados, que produzem tratados multilaterais voltados à CJI (entre outros temas) no Direito Internacional Privado: a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e as Conferências Especializadas Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPs) da Organização dos Estados Americanos (OEA).
É possível ainda encontrarmos acordos ad hoc realizados por Estados que não possuem tratado cooperacional, para que a cooperação solicitada seja realizada sob promessa de reciprocidade. Ofertada a promessa de reciprocidade, o Estado ofertante fica obrigado a cumprila em momento subsequente, caso lhe seja igualmente submetida uma demanda cooperacional por outro Estado.
No campo do costume internacional, existe debate sobre a existência de um costume internacional que obrigaria os Estados, em boa fé, a realizar atos de cooperação jurídica internacional. Esse costume teria sido forjado a partir da criação da ONU, cujo tratado institutivo (Carta de São Francisco) estipula, em seu artigo 13, o objetivo da organização de fomentar a cooperação entre os Estados. Além disso, a Resolução 2.625 (XXV), de 24 de outubro de 1970, da Assembleia Geral da ONU sobre as “relações amistosas e cooperação entre Estados, em conformidade com os princípios da Carta da ONU” previu sete princípios para reger tais relações, entre eles o “dever dos Estados de cooperar entre si de acordo com a Carta da ONU” (princípio n. 4)12. Contudo, o princípio n. 3 da mesma Resolução prevê o “dever de não interferência nos assuntos domésticos do Estado, de acordo com a Carta da ONU”13. Para Denise Neves Abade, cotejados esses dois princípios, ficam admitidos os tradicionais limites na aplicação direta ou indireta do direito estrangeiro, como o uso da ordem pública de Direito Internacional Privado para negar a cooperação pretendida14. Assim, não há prática internacional consistente (ainda) que reconheça tal costume ou explicite seus contornos.
No que tange aos princípios gerais de direito internacional, o princípio da boafé é lembrado por Nadia de Araujo, no sentido de obrigar os Estados a cooperar com outro Estado sem desconfianças ou excessos15.
Graças às suas fontes internacionais, a CJI insere-se no ambiente do Direito Internacional, inclusive com a possibilidade de apelo a cortes internacionais e ameaças de retorsão. Por isso, o estudo da CIJ não pode se resumir ao texto dos tratados celebrados pelo Brasil, mas deve alcançar a (i) interpretação internacional desses mesmo tratados e (ii) os mecanismos postos à disposição do Brasil para fazer valer a cooperação contra a vontade de Estados que, indevidamente, querem opor obstáculos à sua concessão.
As normas internacionais do Direito Internacional Privado em seu segmento “cooperação jurídica internacional” impõem uma interpretação adequada, que leve em consideração sua inserção no Direito Internacional. Uma negativa indevida de CJI por um Estado que tenha um tratado cooperacional com o Brasil não é somente um tema de direito interno, mas é uma denegação de justiça e violação de compromisso a ensejar reação brasileira até que o Estado faltoso cumpra adequadamente a cooperação pleiteada - o que, obviamente, auxiliará o regular desenvolvimento do processo.
3.3. As fontes nacionais: a soberania e o Estado Constitucional Cooperativo
Os Estados têm interesse na elaboração de normas internacionais cooperacionais e também na participação de organizações e redes internacionais que estimulam a atuação conjunta e convergente de todos os envolvidos para fazer cumprir suas próprias normas e decisões - que dependem de atos sujeitos a outra jurisdição. Consolida-se uma nova visão de soberania, que é exercida justamente pela participação dos Estados em diálogos internacionais que permitam ações em conjunto, cumprindo os objetivos de acesso à justiça, outrora implementados de modo isolado16.
O “olhar internacionalista”, então, atende melhor os interesses do Estado de Direito no atual momento, substituindo uma visão nacionalista tradicional. Ironicamente, a cooperação por meio de normas e ação em rede preserva a soberania dos Estados, que se desgastaria pela incapacidade de fazer frente aos problemas transfronteiriços.
A soberania, então, possui, nesse momento, duas dimensões que interagem: (i) a dimensão negativa, que consiste na vedação de atos considerados ofensivos aos interesses da comunidade nacional e (ii) a dimensão positiva, que implica na vontade de celebrar normas e de participar de organizações e redes internacionais de cooperação justamente para a realização de objetivos nacionais, que seriam impossíveis de alcançar pela ação isolada do Estado em seu território.
Consolida-se o “Estado que coopera”, denominado Estado Constitucional Cooperativo por Häberle, que é caracterizado por sua abertura para o Direito Internacional e ainda por sua vocação constitucional de auxílio à realização internacional das tarefas da comunidade dos Estados. Para Häberle, o Estado Constitucional Cooperativo é aquele, que premido pelos fluxos transfronteiriços, age disposto à cooperação internacional17.
Porém, ao lado da nova caracterização de soberania, a realização cooperativa dos direitos humanos é outra consequência do Estado Constitucional Cooperativo e da cooperação jurídica internacional no Direito Internacional Privado. Qualquer Estado que busque proteger direitos humanos tem interesse na cooperação jurídica internacional, que assegura, em última análise, o direito de acesso à justiça. Como tutelar, por exemplo, os direitos da criança se os Estados não cooperassem em casos de subtração ilícita de menores? Como assegurar os direitos de propriedade de vítimas de estelionatário ou ainda os direitos difusos de uma coletividade em caso de corrupção envolvendo funcionários públicos, se os Estados receptores do dinheiro ilicitamente obtido não cooperassem?
A CF/88 adota esse modelo de “Estado Constitucional Cooperativo” e já no artigo 4º, IX, determina que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo «princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade». No parágrafo único do mesmo artigo 4º, há a previsão de que o Brasil «buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. Esses dispositivos constitucionais devem, no mínimo, sugerir o estatuto supralegal interno dos tratados de cooperação e integração, como os do Mercosul e, também, os tratados de cooperação jurídica internacional (CJI)18. Também deve ser realçada a menção, como fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, da promoção da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), o que impulsiona a cooperação jurídica internacional como forma de implementação do direito de acesso à justiça.
Além desses dispositivos genéricos, a CF/88 possui regras específicas sobre cooperação jurídica internacional, ao regular a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira, (artigo 105, I, “i”), bem como a extradição (artigo 5º, LI e LII e artigo 102, I, “g”) e a previsão genérica de julgamento de “causas baseadas em tratado” (artigo 109, III).
Inicialmente, o artigo 5º, LI, da CF prevê que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, (i) em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou (ii) de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Além disso, dispõe o inciso seguinte (LII) que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. De acordo com o artigo 102, I, “g”, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da extradição (espécie de cooperação jurídica internacional em matéria penal), quando o Brasil for Estado Requerido (extradição passiva). Em relação à extradição, a Lei 13.344/2017 (que revogou a Lei 6.815/80 - o Estatuto do Estrangeiro) possui normas gerais sobre o processo extradicional (artigos 81 a 99).
Além disso, a CF/88 estipula, em seu artigo 105, I, “i”, que compete ao Superior Tribunal de Justiça “a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias”. A competência do STJ para conceder exequatur e homologar sentenças estrangeiras foi resultado da Emenda Constitucional nº 45, pondo fim à competência do Supremo Tribunal Federal nessas duas temáticas, que havia sido estabelecida desde a Constituição de 1934.
Por sua vez, o artigo 109, III, da CF/88 prevê que compete à Justiça Federal julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, o que fundamenta a atuação dos juízes federais de 1º grau na análise dos pedidos de assistência jurídica pela via do auxílio direto e também na transferência de processos, inclusive criminais.
Assim, a CF/88, por possuir dispositivos principiológicos e, ainda, regras sobre veículos cooperacionais, valorizou a cooperação jurídica internacional. Restaria, é claro, ao legislador a elaboração de uma Lei Geral de Cooperação Jurídica Internacional, para orientar o aplicador (na ausência de tratados) ou mesmo o negociador dos futuros tratados de CJI.
No DIPr de matriz legal, há certa regulamentação da CJI na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB; Lei n. 12.376/2010)19, em especial no artigo 15, que trata da homologação de sentença estrangeira.
Em outros diplomas nacionais, há regramentos esparsos sobre a CJI. Em primeiro lugar, a Parte Geral do Código Penal, elaborada em 1984, trata da aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, o que pode redundar em pleitos cooperacionais (artigo 7o). Além disso, o Código Penal estabelece que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas (artigo 8º), o que exige cooperação para que o Brasil conheça os termos da sentença estrangeira. Além disso, a sentença estrangeira penal, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para (i) obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, bem como para sujeitar o condenado à (ii) medida de segurança. No caso da sujeição à medida de segurança, o Código Penal exige tratado de extradição com o Estado de origem da sentença criminal estrangeira ou, na falta de tratado, requisição do Ministro da Justiça.
Por sua vez, o Código de Processo Penal traz dispositivos sobre a Carta Rogatória e a Homologação de Sentença Estrangeira Criminal (artigos 780 a 790). No plano cível, o Código de Processo Civil estabelece regras sobre jurisdição (já vistas) e cooperação jurídica internacional (26 a 41).
O Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da competência constitucional do tribunal na concessão do exequatur às Cartas Rogatórias e à homologação de sentença estrangeira, possui regras atualizadas de cooperação jurídica internacional após a Emenda Regimental nº 18/2014, tendo sido revogada a antiga Resolução nº 09/2005, que regia a temática. No Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno possui regras sobre extradição.
Esses dispositivos permitem o rechaço de uma eventual visão xenófoba e chauvinista, refratária à essência do DIPr, que é a gestão da diversidade jurídica, aplicada aos fatos transnacionais. Assim, eventual recusa à cooperação jurídica internacional deve ser tida como inconstitucional, pois ameaça a cooperação entre os povos e amesquinha direitos, entre eles a igualdade entre nacionais e estrangeiros e o acesso à tutela jurídica justa.
3.4. O novo CPC e a importância de uma lei geral de cooperação jurídica internacional
O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao introduzir expressamente a temática da “cooperação jurídica internacional” (CJI) como um capítulo próprio do seu texto, dos artigos 26 a 41, superando o laconismo do CPC de 197320.
Consagrou-se a terminologia “cooperação jurídica internacional” e houve o reconhecimento do princípio da especialidade pelo qual a cooperação jurídica será regida por tratado de que o Brasil faz parte, que deve, contudo, observar (i) o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; (ii) a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; (iii) a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente; (iv) a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação; e (v) a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras (artigo 26 do CPC).
Sobre a exigência do respeito ao devido processo legal no Estado Requerente, entendo que, para dar precisão a esse conceito, é importante que sejam utilizados parâmetros internacionais referentes ao devido processo legal, o que condiz com o contemporâneo Direito Internacional Privado à luz dos direitos humanos.
Por sua vez, na falta de tratado, a cooperação jurídica internacional pode ser realizada mediante a promessa de reciprocidade pela via diplomática.
A redação final do novo CPC abriu uma significativa exceção à reciprocidade cooperacional no que tange à homologação de sentença estrangeira: o Brasil desistiu de introduzir a reciprocidade na homologação de sentença estrangeira, com exceção das sentenças estrangeiras de execução fiscal21.
Essa desistência brasileira representa, corretamente, o desejo do Estado em possibilitar acesso à justiça e reconhecimento de situações jurídicas consolidadas aos que são beneficiados por sentenças estrangeiras no nosso território (dentro dos limites materiais do direito estrangeiro, como o respeito à ordem pública), o que está em linha com a proteção de direitos humanos. Contudo, cabe à diplomacia brasileira identificar e convencer os Estados estrangeiros que se negam a homologar as sentenças brasileiras para que seja também protegido o direito ao acesso à justiça de quem obteve sentenças brasileiras e necessita executá-las extraterritorialmente.
Ficou expressamente vedada a prática de atos cooperacionais no Brasil que (i) contrariem ou que (ii) produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro (artigo 26, §3º).
Esses condicionantes mostram a abertura da CJI à gramática dos direitos humanos, com exigências relativas ao devido processo legal no Estado Requerente e, ainda, de respeito às “normas fundamentais que regem o Estado brasileiro”, o que inviabiliza (i) a cooperação com ditaduras ou mesmo democracias em conjuntura de pânico, que perseguem e discriminam grupos minoritários e (ii) o cumprimento interno de pedidos cooperacionais ofensivos aos direitos humanos no Brasil (mesmo que oriundos de Estados democráticos).
Há também determinações referentes ao processamento interno dos pedidos cooperacionais, como tratamento igualitário aos estrangeiros, acesso à justiça e assistência jurídica (o que exigirá intervenção da Defensoria Pública da União em determinados pedidos cooperacionais), bem como publicidade (evitando a surpresa ao indivíduo que será atingido por um pedido cooperacional).
Quanto à autoridade central, há o reconhecimento da sua importância na comunicação com outros Estados, sem ter sido estipulada a sua exclusividade, o que permite o desenvolvimento de outras fórmulas de comunicação da CJI, como a via do contato direto entre autoridades (ver abaixo as diferentes vias de comunicação na CJI).
Quanto às espécies cooperacionais, o CPC regula importantes veículos de assistência jurídica internacional, como a carta rogatória e o auxílio direto, bem como o pedido de execução de decisão estrangeira por meio da regulamentação da ação de homologação de sentença estrangeira.
Finalmente, o CPC trouxe uma importante cláusula de abertura para a evolução do objeto (conteúdo) da CJI ao listar os atos cooperacionais, prevendo, no final, que a cooperação poderá ter como objeto “qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira” (artigo 27, VI)22. Com isso, consagrou-se o princípio da não tipicidade das espécies cooperacionais, podendo novos pedidos serem agregados à CJI no futuro.
4. DIÁLOGO DAS FONTES NA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
A evolução das fontes acima exposta demonstrou a coexistência de dois fenômenos: (i) a expansão do número de tratados voltados à cooperação jurídica internacional e (ii) a inexistência de uma sistematização formal empreendida pelos Estados, que conciliasse as regras internacionais e nacionais. Esses dois fenômenos estão interligados: ao mesmo tempo em que os fluxos transfronteiriços intensificam-se, os Estados preferem incrementar a regulação jurídica plural da cooperação jurídica internacional, sem maior preocupação com unidade ou sistematicidade das fontes.
De fato, a globalização acelerou a edição de novos tratados em diversos entes sem nenhuma unidade orgânica entre eles, como se viu acima, que se somaram às leis locais, gerando acúmulo de regras e fragmentação da regulação normativa e jurisdicional em uma multiplicidade de normas internas e internacionais.
Há, então, o risco da perda de sistematização e consistência interna da temática da cooperação jurídica internacional do DIPr, que deixaria de existir como um corpo coerente de princípios e regras. Para vencer esse desafio, há duas soluções possíveis: a resolução do conflito e o diálogo entre as fontes.
A opção pela resolução do conflito entre as fontes consiste no uso de critérios para resolver as antinomias entre as regras internacionais e nacionais, de forma cronológica, hierárquica e de especialidade. É a solução tradicional para o enfrentamento da existência de uma pluralidade de fontes regulando o mesmo fenômeno (os fatos transnacionais). Seria obtida a segurança jurídica e preservada a igualdade e o tratamento justo entre os envolvidos, pois não existiria a possibilidade de aplicação diferenciada de normas para casos idênticos.
Ocorre que nem sempre é clara a opção dos Estados pela superação das normas anteriores pela edição de uma regra nova. Por isso, Erik Jayme defendeu a coordenação flexível entre as fontes do DIPr, por intermédio do diálogo entre elas23, obtendo-se harmonia e não exclusão entre as fontes.
O “diálogo das fontes” consiste na aplicação simultânea, coerente e coordenada entre regras internas e internacionais, que possuem campos convergentes, mas não mais totalmente coincidentes ou iguais24, gerando a convivência e unidade sistêmica do DIPr. Há, então, influências recíprocas entre as fontes, o que permite a adoção de solução normativa mais adequada ao caso concreto.
O diálogo das fontes internacionais e nacionais do DIPr envolve normas de tratados globais (por exemplo, negociados sob os auspícios da ONU ou da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado), regionais (por exemplo, os negociados sob os auspícios da OEA - CIDIPs) e de integração (como os produzidos na União Europeia ou MERCOSUL), além das normas nacionais.
De acordo com Marques, as formas pelas quais o diálogo pode ocorrer são múltiplas: (i) diálogo de aplicação direta, no qual as regras nacionais ou regras de tratados diversos incidem sobre os Estados partes comuns, exigindo coordenação; e (ii) o diálogo de aplicação indireta (diálogo de inspiração ou diálogo narrativo)25.
O diálogo de aplicação direta pode ser subdividido em (i) diálogo de complementaridade e subsidiariedade; (ii) diálogo sistemático de coerência e (iii) diálogo de coordenação e adaptação sistemática26.
O diálogo de complementaridade e subsidiariedade consiste no uso suplementar de regras previstas em leis ou outros tratados, suprindo eventuais lacunas e tendo como finalidade o cumprimento de determinado valor do DIPr. Como exemplo de complementaridade, é possível citar que o Protocolo de Las Leñas completa os Tratados de Montevidéu de 1940, que estavam centrados no reconhecimento de sentenças judiciais e arbitrais, além das cartas rogatórias. Outro exemplo é o uso da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (que estabelece as regras gerais do DIPr27) em conjunto com dispositivos convencionais, de modo a permitir a complementação das lacunas entre os diplomas. Ainda, cita-se o artigo 35 do Protocolo de Las Leñas sobre cooperação jurídica internacional cível do Mercosul, que não proíbe a incidência das disposições das convenções que anteriormente tiverem sido assinadas sobre a mesma matéria entre os Estados Partes, desde que sejam mais benéficas à cooperação pretendida.
Por sua vez, o diálogo de coordenação e adaptação sistemática consiste no reconhecimento de outros diplomas normativos referentes ao tema, que podem inclusive levar à priorização de uma regra.
Já o diálogo de sistemático de coerência busca coordenar a aplicação de regras nacionais e tratados de DIPr, podendo uma regra ser utilizada como base conceitual de outra, respeitando-se os valores da disciplina. Exemplo desse diálogo é o disposto no art. 9º da Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, que prevê que as diversas leis que podem ser competentes para regular os diferentes aspectos de uma mesma relação jurídica serão aplicadas de maneira harmônica, procurandose realizar os objetivos de cada uma das legislações. As dificuldades que forem causadas por sua aplicação simultânea serão resolvidas levando-se em conta as exigências impostas pela equidade no caso concreto28.
Diferentemente do diálogo de aplicação direta, o diálogo de aplicação indireta consiste na invocação de normas internacionais ou nacionais não vinculantes que inspiram e fundamentam a interpretação de outras normas. Esse diálogo é também chamado por Jayme de “diálogo narrativo”, sendo baseado na força persuasiva das normas, que, por conter valores, influenciam a tomada de decisão sobre outras29. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fez uma aplicação narrativa do “Código Bustamante”, ao transpor as regras deste tratado a fato transnacional oriundo de Estado não parte30.
A existência dessas diferentes fontes do DIPr demonstram a complexidade do regramento dos fatos transfronteiriços, que conta com regras domésticas, internacionais estrito senso e ainda transnacionais, o que exige do intérprete tanto o manejo das regras de conflito (critérios de superação das antinomias, como o critério cronológico, hierárquico e da especialidade), quanto a busca do “diálogo das fontes”31, fazendo nascer o novo DIPr.
CONCLUSÃO
A cooperação jurídica internacional é fruto da existência de Estados soberanos cujo poder restringe-se, em geral, aos limites de seu território, o que os impulsiona a solicitar cooperação dos demais para aplicar o direito em casos que envolvam condutas fora do seu território.
Na medida em que os casos transnacionais (aqueles com contato com outra jurisdição) multiplicam-se, a necessidade de elaboração de normas internacionais de cooperação aumenta proporcionalmente.
Esse incremento do número de casos transfronteiriços impulsiona os Estados a negociar tratados de cooperação jurídica internacional, gerando o risco de existirem conflitos entre tratados ou mesmo entre tratados e normas nacionais.
O exercício do diálogo das fontes pode ser instrumento para gerar coerência e consistência nesse manancial de regras de cooperação jurídica internacional, gerando um ambiente de respeito a direitos de todos os envolvidos.